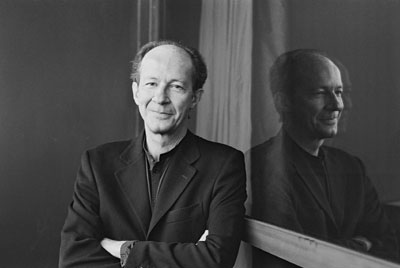Giorgio Agamben – O que é um povo?
O filósofo italiano Giorgio Agamben discute os significados do termo “povo”, que tanto dá nome ao sujeito político quanto a uma classe que é politicamente excluída, sentidos díspares que geram conflitos.
O trecho faz parte do livro “Meios sem Fim: Notas sobre a Política”, lançado pela editora Autêntica em dezembro de 2014.
O que é um povo?
Análise de uma fratura biopolítica
1. Toda interpretação do significado político do termo “povo” deve partir do fato singular de que este, nas línguas europeias modernas, também sempre indica os pobres, os deserdados, os excluídos. Ou seja, um mesmo termo nomeia tanto o sujeito político constitutivo como a classe que, de fato se não de direito, está excluída da política.
Em italiano “popolo”, em francês “peuple”, em espanhol “pueblo” [em português “povo”] (como os adjetivos correspondentes “popolare”, “populaire”, “popular” e os tardo latinos “populus” e “popularis” dos quais todos derivam) designam, na língua comum como no léxico político, tanto o conjunto dos cidadãos como corpo político unitário (como em “povo italiano” ou em “juiz popular”) quanto os pertencentes às classes inferiores (como em “homme du peuple”, “rione popolare”, “front populaire”). Também em inglês “people”, que tem um sentido mais indiferenciado, conserva, porém, o significado de “ordinary people” em oposição aos ricos e à nobreza.
Na constituição americana lê-se, assim, sem distinção de gênero, “We people of the United States…”; mas quando Lincoln, no discurso de Gettysburg, invoca um “Government of the people by the people for the people”, a repetição contrapõe implicitamente ao primeiro povo um outro.
O quanto essa ambiguidade era essencial também durante a Revolução Francesa (isto é, exatamente no momento em que se reivindica o princípio da soberania popular) é testemunhado pelo papel decisivo que cumpriu ali a compaixão pelo povo entendido como classe excluída. Hannah Arendt lembrou que “a própria definição do termo havia nascido da compaixão, e a palavra tornou-se sinônimo de azar e de infelicidade –le peuple, les malheureux m’applaudissent’ [o povo, os infelizes me aplaudem], costumava dizer Robespierre; le peuple toujours malheureux’ [o povo sempre infeliz], como se exprimia até mesmo Sieyès, uma das figuras menos sentimentais e mais lúcidas da Revolução”. Mas já em Bodin, num sentido oposto, no capítulo da “República” no qual é definida a democracia, ou “Etat populaire”, o conceito é duplo: ao “peuple en corps” [povo enquanto corpo político], como titular da soberania, corresponde o “menu peuple” [pessoas comuns, o povão], que a sabedoria aconselha excluir do poder político.
2. Uma ambiguidade semântica tão difundida e constante não pode ser casual: ela deve refletir uma anfibologia inerente à natureza e à função do conceito de povo na política ocidental. Ou seja, tudo ocorre como se aquilo que chamamos de povo fosse, na realidade, não um sujeito unitário, mas uma oscilação dialética entre dois polos opostos: de um lado, o conjunto Povo como corpo político integral, de outro, o subconjunto povo como multiplicidade fragmentária de corpos necessitados e excluídos; ali uma inclusão que se pretende sem resíduos, aqui uma exclusão que se sabe sem esperanças; num extremo, o Estado total dos cidadãos integrados e soberanos, no outro, a reserva –corte dos milagres ou campo– dos miseráveis, dos oprimidos, dos vencidos que foram banidos.
Um referente único e compacto do termo povo não existe, nesse sentido, em nenhum lugar: como muitos conceitos políticos fundamentais (semelhantes, nisso, aos “Urworte” de Carl Abel e Freud ou às relações hierárquicas de Dumont), povo é um conceito polar, o qual indica um duplo movimento e uma complexa relação entre dois extremos.
Mas isso significa, também, que a constituição da espécie humana num corpo político passa por uma cisão fundamental e que, no conceito de povo, podemos reconhecer sem dificuldade os pares categoriais que vimos definir a estrutura política original: vida nua (povo) e existência política (Povo), exclusão e inclusão, “zoé” e “bíos”. Ou seja, povo já traz sempre em si a fratura biopolítica fundamental. Ele é aquilo que não pode ser incluído no todo do qual faz parte e não pode pertencer ao conjunto no qual já está desde sempre incluído.
Daí as contradições e as aporias a que ele dá lugar todas as vezes que é evocado e colocado em jogo na cena política. Ele é aquilo que já é desde sempre e que precisa, no entanto, realizar-se; é a fonte pura de toda identidade e deve, porém, redefinir-se e purificar-se continuamente através da exclusão, da língua, do sangue e do território. Ou seja, no polo oposto, é aquilo que falta por essência a si mesmo e cuja realização coincide, por isso, com sua própria abolição; é aquilo que, para ser, deve negar, com seu oposto, a si mesmo (daqui as aporias específicas do movimento operário, direcionado ao povo e, ao mesmo tempo, voltado para a sua abolição).
De tempos em tempos bandeira sangrenta da reação e insígnia incerta das revoluções e das frentes populares, o povo contém em todo caso uma cisão mais originária do que aquela amigo-inimigo, uma guerra civil incessante que o divide mais radicalmente do que todo conflito e, ao mesmo tempo, o mantém unido e o constitui mais solidamente do que qualquer identidade. Observando bem, aliás, aquilo que Marx chama de luta de classe e que, mesmo permanecendo substancialmente indefinido, ocupa um posto muito central em seu pensamento, não é senão essa guerra interna que divide cada povo e que terá um fim somente quando, na sociedade sem classes ou no reino messiânico, Povo e povo coincidirem e não houver mais, propriamente, povo algum.
3. Se isso for verdade, se o povo contém necessariamente em seu interior a fratura biopolítica fundamental, será então possível ler de modo novo algumas páginas decisivas da história do nosso século. Visto que, se a luta entre os dois povos já estava certamente em curso desde sempre, no nosso tempo ela sofreu uma última, paroxística aceleração. Em Roma, a cisão interna do povo era sancionada juridicamente na divisão clara entre “populus” e “plebs”, os quais tinham, cada um deles, suas instituições e seus magistrados, assim como na Idade Média a distinção entre povo miúdo e povo gordo correspondia a uma articulação precisa de diversas artes e profissões; mas quando, a partir da Revolução Francesa, o povo se torna o depositário único da soberania, o povo transforma-se numa presença embaraçosa, e miséria e exclusão aparecem pela primeira vez como um escândalo em qualquer sentido intolerável. Na Idade Moderna, miséria e exclusão não são apenas conceitos econômicos e sociais mas categorias eminentemente políticas (todo o economicismo e o “socialismo” que parecem dominar a política moderna têm, na realidade, um significado político, aliás, biopolítico).
Nessa perspectiva, o nosso tempo não é senão a tentativa –implacável e metódica– de atestar a cisão que divide o povo, eliminando radicalmente o povo dos excluídos. Essa tentativa reúne, segundo modalidades e horizontes diferentes, esquerda e direita, países capitalistas e países socialistas, unidos no projeto –em última análise inútil, porém que se realizou parcialmente em todos os países industrializados– de produzir um povo uno e indivisível. A obsessão do desenvolvimento é tão eficaz no nosso tempo porque coincide com o projeto biopolítico de produzir um povo sem fratura.
O extermínio dos judeus na Alemanha nazista adquire, nessa perspectiva, um significado radicalmente novo. Como povo que recusa integrar-se no corpo político nacional (supõe-se, de fato, que toda sua assimilação seja, na verdade, somente simulada), os judeus são os representantes por excelência e quase o símbolo vivente do povo, daquela vida nua que a modernidade cria necessariamente no seu interior, mas cuja presença não consegue mais de algum modo tolerar. E na fúria lúcida com a qual o “Volk” alemão, representante por excelência do povo como corpo político integral, procura eliminar para sempre os judeus, devemos ver a fase extrema da luta interna que divide Povo e povo. Com a solução final (que envolve, não por acaso, também os ciganos e outros não integráveis), o nazismo procura obscura e inutilmente liberar a cena política do Ocidente dessa sombra intolerável, para produzir finalmente o “Volk” alemão como povo que atestou a fratura biopolítica original (por isso os chefes nazistas repetem tão obstinadamente que, eliminando judeus e ciganos, estão, na verdade, trabalhando também para os outros povos europeus).
Parafraseando o postulado freudiano sobre a relação entre “Es” e “Ich”, poder-se-ia dizer que a biopolítica moderna é sustentada pelo princípio segundo o qual “onde há vida nua, um Povo deverá ser”; sob a condição, porém, de acrescentar imediatamente que tal princípio vale também na formulação inversa, que quer que “onde há um Povo, ali haverá vida nua”.
A fratura, que acreditavam ter sanado eliminando o povo (os judeus que são seu símbolo), reproduz-se, assim, transformando novamente todo o povo alemão em vida sagrada votada à morte e em corpo biológico que deve ser infinitamente purificado (eliminando doentes mentais e portadores de doenças hereditárias). E, de modo diferente, mas análogo, hoje o projeto democrático-capitalista de eliminar, através do desenvolvimento, as classes pobres, não só reproduz no seu interior o povo dos excluídos, mas transforma em vida nua todas as populações do Terceiro Mundo. Somente uma política que tiver sabido prestar contas da cisão biopolítica fundamental do Ocidente poderá deter essa oscilação e colocar um fim na guerra civil que divide os povos e as cidades da Terra.
GIORGIO AGAMBEN TRADUÇÃO DAVI PESSOA